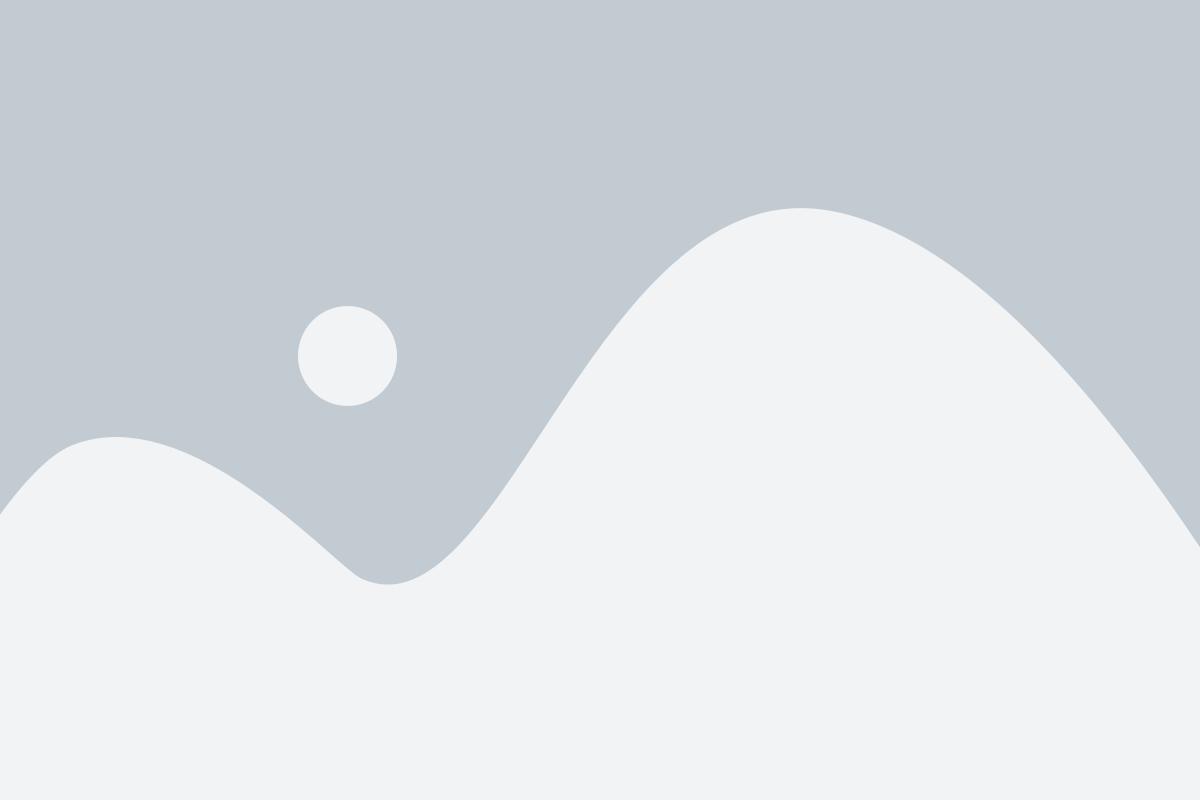Autor: Renato Assis — Advogado
Finalidade: Interpretação e análise técnico-jurídica da minuta da Resolução CNSP referente à regulamentação das Cooperativas de Seguros
INTRODUÇÃO E CONTEXTO NORMATIVO
A publicação, pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Edital de Consulta Pública nº 7/2025, submetendo à apreciação social a minuta de Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) destinada a regulamentar as sociedades cooperativas de seguros, representa um marco na estrutura regulatória do mercado securitário brasileiro. A proposta, aprovada na reunião do Conselho Diretor da SUSEP de 24 de setembro de 2025, inaugura um novo ciclo de normatização para entidades que, embora previstas no Decreto-Lei nº 73/1966, jamais haviam recebido disciplina infralegal específica que lhes conferisse efetividade prática.
O texto normativo visa a estabelecer normas gerais aplicáveis às operações de seguro realizadas por cooperativas, em harmonia com os arts. 5º e 32 do Decreto-Lei nº 73/1966, que já reconheciam a natureza híbrida dessas entidades, situadas entre o mutualismo e o seguro tradicional. O vácuo regulatório existente por quase seis décadas impediu que o cooperativismo securitário evoluísse institucionalmente, restringindo-o a experiências pontuais e de difícil enquadramento jurídico.
A lacuna torna-se ainda mais relevante quando comparada à recente consolidação da Lei Complementar nº 213/2025, que regulamentou a Proteção Patrimonial Mutualista (PPM) — figura de natureza jurídica próxima, mas nunca idêntica, às cooperativas de seguros. Enquanto a Lei Complementar conferiu ao modelo mutualista feição não securitária, fundada no associativismo e na gestão coletiva de riscos sem transferência contratual típica do seguro, o modelo cooperativo, ora normatizado, retorna ao campo clássico da atividade seguradora, com plena sujeição à SUSEP e ao regime prudencial aplicável às seguradoras.
Nesse sentido, a minuta da Resolução do CNSP sobre as cooperativas de seguros deve ser compreendida como complementar e não concorrente ao regime da LC 213/2025. A distinção entre ambas as figuras é conceitualmente essencial: o cooperativismo de seguros assume natureza de sociedade seguradora sob forma cooperativa, enquanto a PPM mantém-se como associação civil não securitária. Assim, enquanto a Resolução que regulamenta a PPM impôs severas restrições e condicionantes operacionais — o que muitos consideram ter “engessado” o mutualismo —, a minuta das cooperativas apresenta tom notavelmente mais técnico e permissivo, sem a carga ideológica ou de restrição normativa observada no outro texto.
Essa diferença de abordagem reflete, com clareza, uma ampla diferença na postura da SUSEP. Na PPM, o órgão regulador demonstrou evidente preocupação com a preservação do monopólio securitário, impondo um arcabouço de exigências desproporcionais para uma atividade essencialmente associativa. Já no caso das cooperativas de seguros, a SUSEP reconhece a vocação natural dessas entidades para o mercado regulado, buscando domesticar o cooperativismo securitário dentro dos parâmetros de solvência, governança e transparência típicos do sistema supervisionado, mas sem tolher sua essência mutualista.
Do ponto de vista técnico, a minuta operacionaliza o comando do Decreto-Lei nº 73/1966, inserindo as cooperativas de seguros no Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP), com remissão expressa à aplicação subsidiária das normas relativas às sociedades seguradoras, salvo disposição expressa em contrário. Trata-se, portanto, de uma integração normativa — e não mera autorização —, que confere às cooperativas posição formal no mercado regulado e as submete ao mesmo regime de auditoria, solvência e governança aplicável às seguradoras convencionais, preservando apenas as especificidades de sua forma societária.
Outro ponto relevante é o momento político-regulatório em que essa minuta surge. Após anos de tensão entre o setor mutualista e a SUSEP, a proposta de regulamentação das cooperativas é vista por muitos agentes de mercado como uma alternativa institucional de baixo atrito, mais facilmente aceitável pela Autarquia e potencialmente viável para a consolidação de modelos coletivos de seguro. Enquanto o mutualismo enfrenta resistência política e questionamentos sobre sua natureza jurídica, o cooperativismo securitário oferece um caminho de convergência — alinhando o discurso da inclusão securitária com a lógica da regulação prudencial.
Em síntese, a minuta de Resolução do CNSP, objeto desta análise, não constitui mera inovação legislativa, mas antes uma ressurreição normativa de um instituto há muito previsto e jamais aplicado. Representa um avanço técnico e político relevante, na medida em que reabre espaço regulatório para entidades coletivas de seguro dentro dos limites legais do Decreto-Lei nº 73/1966, conferindo segurança jurídica, previsibilidade e legitimidade institucional a um modelo que pode vir a equilibrar o mercado brasileiro entre a rigidez das seguradoras tradicionais e a informalidade do mutualismo associativo.
ESTRUTURA E FORMAS SOCIETÁRIAS DAS COOPERATIVAS DE SEGUROS
O Capítulo I da minuta da Resolução do CNSP propõe uma estrutura organizacional tripartite para as cooperativas de seguros, composta por cooperativas singulares, cooperativas centrais e confederações de cooperativas de seguros, delineando uma hierarquia semelhante àquela já consolidada no cooperativismo de crédito sob supervisão do Banco Central do Brasil (BACEN). Essa sistematização confere à atividade um modelo piramidal de governança e supervisão interna, com funções de coordenação e controle distribuídas entre os níveis.
A cooperativa singular de seguros constitui a base operacional do sistema. É a entidade que realiza, de forma direta, a atividade securitária em benefício exclusivo de seus associados — pessoas físicas ou jurídicas —, sendo-lhe vedado operar com não associados. Essa limitação, prevista expressamente no artigo 8º da minuta, preserva o caráter mutualístico intrínseco da cooperativa, ao mesmo tempo em que evita sua transformação em uma seguradora disfarçada sob forma cooperativa. O texto normativo ainda proíbe a admissão de entes da administração pública e de pessoas jurídicas que exerçam atividades concorrentes, buscando resguardar a finalidade econômica solidária e prevenir conflitos de interesse.
Acima das singulares, situam-se as cooperativas centrais de seguros, formadas exclusivamente por cooperativas singulares e destinadas a prestar serviços técnicos, administrativos ou complementares às suas filiadas. A minuta admite, em caráter excepcional, a participação de cooperativas de crédito autorizadas pelo BACEN, desde que respeitados limites rígidos de influência (máximo de 15% dos votos e do capital social), garantindo que o controle permaneça predominantemente nas mãos das cooperativas de seguros. Esse dispositivo reflete a preocupação regulatória com a manutenção da identidade securitária do sistema, evitando que o cooperativismo financeiro interfira indevidamente na governança do cooperativismo securitário.
No topo da estrutura encontra-se a confederação de cooperativas de seguros, entidade de terceiro grau composta exclusivamente por cooperativas centrais. Sua função é eminentemente institucional: prestar serviços de representação, coordenação e padronização sistêmica, além de exercer papel relevante na supervisão das centrais e, por consequência, das singulares. A Resolução autoriza que tanto as centrais quanto as confederações adotem critérios de proporcionalidade de votos nas assembleias, baseados no número de associados indiretamente representados, o que confere racionalidade democrática ao modelo e reforça a representatividade proporcional — princípio fundamental do cooperativismo moderno.
Essa estrutura de três níveis — singular, central e confederação — não é apenas organizacional, mas regulatória, pois o próprio texto impõe às entidades de grau superior deveres de supervisão e fiscalização sobre as filiadas, inclusive com o poder de intervir ou assumir temporariamente a administração, mediante autorização da SUSEP. Trata-se, portanto, de uma auto supervisão regulada, em que o controle interno do sistema cooperativo é reconhecido e regulado pela autoridade estatal, numa lógica próxima àquela que o Banco Central aplica às cooperativas de crédito dentro do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC).
Sob o ponto de vista jurídico, a definição das formas societárias reafirma que as cooperativas de seguros são sociedades empresárias com finalidade mutualística, e não associações civis. Embora a atividade de seguro, em sentido técnico, continue a ser uma operação econômica de transferência de riscos mediante pagamento de prêmio, a forma cooperativa impõe que os segurados e os detentores do capital sejam as mesmas pessoas, em oposição à lógica das seguradoras tradicionais, onde o lucro é destinado a acionistas estranhos à mutualidade. Assim, o ganho coletivo substitui o lucro individual, e o excedente técnico é devolvido aos associados sob forma de sobras, conforme critérios estatutários.
A redação da minuta ainda prevê vedações expressas à corretagem de seguros pelas centrais e confederações, reforçando a separação entre a função produtora do risco (a cooperativa) e a intermediária (o corretor). Essa proibição é coerente com a natureza do cooperativismo securitário, em que o contrato é celebrado diretamente entre a cooperativa e seus associados, sem necessidade de intermediação comercial.
No plano sistêmico, o modelo proposto busca equilibrar autonomia e controle, permitindo que as cooperativas centrais e confederações prestem serviços comuns — como suporte técnico, resseguro, desenvolvimento de produtos, treinamento e auditoria — sem descaracterizar a autonomia jurídica das singulares. O desenho confere robustez operacional ao sistema e facilita o cumprimento das exigências prudenciais, uma vez que permite economia de escala e gestão compartilhada de riscos, princípios essenciais para a sustentabilidade de qualquer modelo securitário coletivo.
A concepção apresentada na minuta, portanto, alia a tradição do cooperativismo ao rigor técnico do mercado segurador. Sua adoção, se confirmada na versão final da Resolução, tende a fortalecer o cooperativismo securitário como uma alternativa legítima às sociedades anônimas de seguro, sem afrontar o monopólio legal do setor, e ainda permitindo o surgimento de estruturas mais democráticas e territorialmente inclusivas. É um passo relevante para a consolidação de um segmento regulado de seguro mutualista, capaz de competir em eficiência com as seguradoras tradicionais e, ao mesmo tempo, preservar o vínculo associativo entre os participantes.
REGIME OPERACIONAL E RESTRIÇÕES DE ATUAÇÃO
A minuta da Resolução do CNSP sobre cooperativas de seguros estabelece um regime operacional fortemente delimitado, orientado pelos princípios da especialização, mutualidade e prudência financeira. Diferentemente da Resolução da Proteção Patrimonial Mutualista, cujo enfoque é preventivo e restritivo, o texto do CNSP busca definir parâmetros claros de operação sem comprometer a viabilidade econômica das cooperativas. Há, portanto, uma distinção fundamental entre o controle de riscos e a inibição de mercado — distinção esta que, no caso das cooperativas, foi respeitada.
O artigo 7º da minuta lista de forma taxativa os ramos e grupos de ramos vedados às cooperativas singulares, abrangendo riscos de grande complexidade técnica ou elevada volatilidade: petróleo, riscos nomeados e operacionais (RNO), global de bancos, riscos aeronáuticos, marítimos, nucleares, e seguros de crédito interno ou à exportação. Essa delimitação demonstra o reconhecimento, por parte da SUSEP, de que a estrutura cooperativa, embora sólida, não possui o mesmo grau de capitalização e diversificação de risco de uma sociedade seguradora tradicional. Assim, evita-se a exposição das cooperativas a riscos sistêmicos, preservando a estabilidade do sistema e a proteção dos associados.
De igual modo, a minuta veda a adoção dos regimes financeiros de capitalização e de repartição de capitais de cobertura, independentemente do ramo ou modalidade. Essa proibição é coerente com a lógica do seguro cooperativo, cuja natureza mutualística é incompatível com a capitalização de longo prazo — característica das entidades de previdência e seguros de vida com formação de reserva. Em síntese, a cooperativa deve operar com base no regime de repartição simples, em que os prêmios arrecadados em um exercício são destinados ao custeio das indenizações e despesas do mesmo período, sem constituição de reservas matemáticas individualizadas.
No tocante à abrangência das operações, o artigo 8º reafirma o princípio da exclusividade de atendimento aos associados, determinando que as cooperativas singulares só podem operar seguros em benefício direto de seus membros. Essa disposição impede a comercialização aberta de apólices e reafirma o caráter interno do sistema, em que o vínculo associativo é condição essencial para a contratação do seguro. Trata-se de uma característica que aproxima o cooperativismo de seguros do mutualismo clássico, distinguindo-o das seguradoras mercantis. Ao mesmo tempo, confere maior proteção regulatória, uma vez que a SUSEP poderá exigir comprovação do vínculo associativo em eventuais fiscalizações.
Outro ponto relevante diz respeito às operações de cosseguro e resseguro. O artigo 9º veda às cooperativas singulares aceitar riscos em cosseguro, permitindo apenas a cessão de parte desses riscos às cooperativas centrais às quais estejam filiadas, ou às confederações das quais essas centrais participem. O mecanismo visa a criar uma cadeia de retenção vertical, na qual os riscos são redistribuídos dentro do próprio sistema cooperativo, evitando a dispersão para o mercado aberto. A lógica é de integração prudencial: o sistema se protege em rede, mantendo o capital dentro da estrutura cooperativa e reduzindo custos de transferência de risco.
Por outro lado, o artigo 10 autoriza expressamente a contratação de resseguro pelas cooperativas singulares, centrais e confederações, reconhecendo que a transferência parcial de riscos a resseguradores — nacionais ou estrangeiros — é indispensável para a estabilidade técnica das operações. O dispositivo as equipara, para fins regulatórios, às sociedades cedentes, devendo observar as mesmas normas que regem o resseguro no mercado tradicional. Essa equiparação é significativa: pela primeira vez, o cooperativismo securitário passa a ser tratado como parte integrante do sistema de seguros, com igual responsabilidade técnica, ainda que sob forma jurídica distinta.
O conjunto desses dispositivos revela uma intenção regulatória clara: inserir as cooperativas no ambiente de mercado supervisionado, assegurando transparência e solvência, mas preservando a lógica mutualística que lhes é própria. Ao contrário do que ocorreu na Resolução da PPM — na qual a SUSEP impôs restrições operacionais de difícil execução e tratou as associações mutualistas com desconfiança institucional —, aqui o texto reconhece a capacidade das cooperativas de gerir risco com autonomia técnica e responsabilidade financeira. Essa diferença de abordagem tem profundo significado político-regulatório: sinaliza uma abertura da SUSEP à pluralidade institucional dentro do setor de seguros.
Em termos práticos, o regime operacional previsto tende a gerar três efeitos imediatos.
O primeiro é o fortalecimento de um mercado intermediário de seguros coletivos, com foco em nichos específicos (agrícola, saúde suplementar, transportes locais, veículos de pequeno porte), onde a mutualidade e o vínculo regional são diferenciais competitivos.
O segundo é a ampliação do espaço de cooperação entre cooperativas e resseguradoras, permitindo arranjos de retrocessão, pools de riscos e contratos de quota share que profissionalizam o setor. E o terceiro é a consolidação de um ambiente de governança compartilhada, em que o sistema cooperativo funciona como estrutura de mitigação de riscos técnicos e reputacionais, reduzindo a necessidade de intervenção direta da SUSEP.
Em síntese, o regime operacional desenhado pela minuta é tecnicamente equilibrado e juridicamente coerente com o ordenamento securitário vigente. Ele traduz uma visão madura de regulação, que reconhece o cooperativismo como parte legítima do mercado de seguros, ao mesmo tempo em que impõe os limites necessários à sua estabilidade financeira. O resultado é um modelo híbrido — mutualista na essência e prudencial na forma — que, se implementado adequadamente, poderá reconfigurar o mapa institucional do setor securitário brasileiro.
CAPITAL SOCIAL, PATRIMÔNIO E REQUISITOS PRUDENCIAIS
Um dos pilares estruturais da minuta da Resolução do CNSP é a definição do regime de capital social e dos requisitos prudenciais aplicáveis às cooperativas de seguros. A proposta adota um modelo híbrido, combinando os princípios tradicionais do cooperativismo — como a variabilidade e a integralização progressiva do capital — com as exigências prudenciais típicas das sociedades seguradoras. Essa fusão normativa reflete o esforço da SUSEP em harmonizar a natureza solidária das cooperativas com a necessidade de garantir solvência e liquidez, de modo a protegê-las contra riscos de descontinuidade operacional.
O artigo 13 da minuta estabelece que o capital social das cooperativas de seguros é obrigatório, variável e integralizado na admissão dos associados, em moeda corrente nacional. Cada cooperado contribui com cotas-partes de valor unitário inferior ao maior salário-mínimo vigente, respeitando o limite e a proporcionalidade definidos no estatuto. Essa regra busca preservar a acessibilidade e a natureza inclusiva da cooperativa, ao mesmo tempo em que assegura a vinculação patrimonial de cada associado à entidade.
De modo coerente com o princípio da solidariedade limitada, a minuta determina que o capital social deverá ser igual ou superior ao mínimo requerido na regulamentação específica, observando parâmetros semelhantes aos das seguradoras em segmentos equivalentes. Ainda que o texto remeta à regulamentação complementar da SUSEP para definir tais valores, já antecipa o critério de suficiência de 25% do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido, configurando uma espécie de “colchão de solvência” cooperativo.
A exigência de suficiência patrimonial mínima representa avanço técnico relevante. Ela busca assegurar que as cooperativas mantenham reserva prudencial permanente, reduzindo o risco de inadimplência coletiva e garantindo cobertura adequada às provisões técnicas. Ademais, a minuta prevê que, caso o patrimônio líquido ajustado da cooperativa apresente suficiência inferior a 25% do capital mínimo exigido, ficará vedada a distribuição de sobras e juros sobre cotas-partes de capital. Essa limitação, inspirada em boas práticas de regulação prudencial, impede a descapitalização de entidades em situação de fragilidade e preserva o equilíbrio financeiro entre gerações de cooperados.
Outro ponto de destaque é a impenhorabilidade das cotas-partes de capital, dispositivo que reforça a natureza personalíssima da participação societária e impede a expropriação judicial do capital da cooperativa em processos movidos contra o associado. A norma, que ecoa o artigo 24 da Lei nº 5.764/1971 (Lei das Cooperativas), reforça o caráter não especulativo e não transferível das cotas, protegendo o patrimônio coletivo de interferências externas e assegurando a continuidade da entidade mesmo em situações de insolvência individual dos cooperados.
Além do capital social, a minuta consagra princípios de responsabilidade prudencial da administração, facultando à SUSEP exigir, em situações concretas, requisitos adicionais de solvência, liquidez ou capital de risco, conforme a complexidade e o porte das operações. Essa previsão, embora sujeita a críticas sob a ótica da previsibilidade regulatória, é compatível com o regime prudencial das seguradoras e resseguradoras, permitindo à autarquia agir preventivamente em casos de vulnerabilidade técnica ou de concentração de riscos. O texto, portanto, equilibra liberdade de organização com tutela administrativa proporcional, configurando um modelo de regulação responsiva.
A restituição das cotas de capital também está condicionada ao cumprimento dos requisitos prudenciais e à suficiência patrimonial. Essa limitação é de natureza protetiva: impede que cooperativas fragilizadas devolvam valores a associados dissidentes antes de recompor o equilíbrio financeiro e as provisões técnicas exigidas. Na prática, esse dispositivo evita saídas abruptas que possam comprometer a solvência, e reforça o princípio da interdependência financeira que caracteriza o sistema cooperativo.
Sob o prisma comparativo, o regime de capital das cooperativas de seguros aproxima-se muito mais do modelo das cooperativas de crédito reguladas pelo Banco Central do que do regime da Proteção Patrimonial Mutualista (PPM). Enquanto a LC 213/2025 e sua resolução infralegal associada impõem restrições severas à constituição de fundos de reserva e vedam a formação de capital integralizado, o modelo cooperativo adota uma estrutura financeiramente profissionalizada e juridicamente sólida, sujeita à fiscalização permanente e aos mecanismos de auditoria contábil independente.
Essa distinção é central para compreender o movimento institucional da SUSEP. No caso das cooperativas, a autarquia adota postura de integração regulatória, tratando-as como parte legítima do Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP); já no caso das entidades mutualistas, prevalece uma lógica de contenção e isolamento jurídico. Essa diferença explica por que o cooperativismo securitário é visto, inclusive pelo próprio mercado, como uma rota de institucionalização menos conflituosa e mais sustentável.
Em síntese, o regime de capital proposto pela minuta confere solidez técnica, segurança jurídica e previsibilidade operacional ao modelo cooperativo. Ao exigir patrimônio líquido ajustado mínimo, capital integralizado e observância de critérios prudenciais de solvência, a SUSEP transforma o cooperativismo de seguros em uma estrutura equiparável, em rigor e confiabilidade, às seguradoras convencionais. Todavia, preserva o elemento que as distingue: a destinação coletiva dos resultados e o vínculo associativo que substitui o interesse do investidor pelo interesse do membro.
Esse equilíbrio entre autonomia cooperativa e disciplina prudencial é o que torna o texto da minuta singularmente mais técnico e menos político do que a norma equivalente da Proteção Patrimonial Mutualista. É, portanto, um dos pontos mais robustos e promissores da proposta — um verdadeiro marco de convergência entre o direito cooperativo e o direito securitário.
GOVERNANÇA CORPORATIVA E ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
A minuta da Resolução do CNSP dedica extenso tratamento à estrutura de governança corporativa das cooperativas de seguros, refletindo o movimento recente da SUSEP de alinhar as entidades supervisionadas às boas práticas internacionais de gestão, transparência e controle. Trata-se de um capítulo de natureza eminentemente institucional, que traduz, em linguagem regulatória, a transição do cooperativismo securitário de um modelo associativo tradicional para uma entidade de interesse público com deveres fiduciários e padrões de governança semelhantes aos das sociedades anônimas de seguro.
O artigo 16 da minuta determina que cada cooperativa de seguros deve aprovar, em Assembleia Geral Ordinária, uma política de governança corporativa, contemplando aspectos de representatividade, direção estratégica, gestão executiva e mecanismos de fiscalização e controle. O texto enfatiza princípios como segregação de funções, transparência, ética, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, os quais passam a integrar o núcleo normativo obrigatório das cooperativas securitárias. Essa normatização aproxima a governança cooperativa da lógica prudencial de Basileia III, aplicável ao sistema financeiro, e traduz a ideia de que a forma jurídica cooperativa não exime a entidade das obrigações típicas de uma operadora de seguros.
O artigo 17 estabelece a estrutura mínima dos órgãos estatutários, composta por Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. A relação hierárquica é clara: a Diretoria é subordinada ao Conselho de Administração, e este, por sua vez, responde perante a Assembleia Geral. O modelo rompe com a tradição informal do cooperativismo associativo, instituindo uma separação funcional entre gestão executiva e deliberação estratégica, princípio fundamental para a integridade institucional e a mitigação de riscos de captura administrativa.
O Conselho de Administração surge como o órgão de maior relevância estratégica. O artigo 18 define sua composição conforme o nível da cooperativa:
- nas singulares, deve ser integrado por pessoas naturais associadas;
- nas centrais, por representantes das cooperativas singulares filiadas (também pessoas naturais);
- e nas confederações, por representantes das cooperativas centrais.
Essa estrutura escalonada assegura representatividade democrática e controle por pares, preservando o vínculo mutualista entre os diversos níveis do sistema. O mandato máximo é de quatro anos, com exigência de política de renovação periódica, garantindo rotatividade mínima de um terço a cada eleição, de modo a evitar perpetuação de dirigentes e estimular a oxigenação institucional.
A minuta também autoriza, de forma inovadora, a contratação de conselheiros de administração independentes não associados, desde que a maioria do colegiado seja composta por pessoas vinculadas à cooperativa. Essa abertura é relevante sob dois aspectos: primeiro, permite a introdução de competências técnicas externas (atuarial, contábil, jurídica ou de compliance), reforçando a profissionalização da governança; segundo, cria uma ponte entre a experiência cooperativa e o padrão corporativo de governança, sem descaracterizar o controle associativo. O artigo 20, contudo, impõe limites rigorosos à independência, vedando a nomeação de conselheiros com vínculos recentes (empregatícios, contratuais ou familiares) com qualquer cooperativa do mesmo sistema, prevenindo conflitos de interesse e assegurando imparcialidade real.
No campo das competências, o artigo 21 confere ao Conselho de Administração atribuições amplas, abrangendo desde a definição da orientação geral dos negócios até o acompanhamento dos relatórios de auditoria contábil e atuarial independentes. Cabe-lhe eleger e destituir diretores, convocar assembleias, autorizar operações relevantes, definir a estrutura de riscos e controles internos e aprovar políticas institucionais. Tais atribuições evidenciam que a minuta confere ao conselho um papel de órgão de governo corporativo pleno, e não meramente consultivo — em sintonia com os padrões do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e com as exigências prudenciais internacionais aplicáveis ao setor financeiro.
A Diretoria Executiva, disciplinada no artigo 22, é o órgão de gestão operacional. Seus membros são eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de até quatro anos, permitida a reeleição. A maioria dos diretores deve ser composta por associados, mas admite-se a nomeação de profissionais externos para funções técnicas específicas. Essa flexibilidade é salutar, pois permite que cooperativas com menor maturidade administrativa possam incorporar executivos experientes sem romper o vínculo cooperativo. A remuneração da diretoria, embora facultada, depende de aprovação em assembleia geral, reforçando o controle social e a transparência nas decisões financeiras.
O Conselho Fiscal, por sua vez, é o órgão de fiscalização permanente, com composição mínima de três membros efetivos e um suplente, conforme o artigo 23. Seu papel é central na integridade do sistema: fiscaliza os atos da administração, verifica o cumprimento de deveres legais e estatutários, opina sobre demonstrações financeiras, convoca auditorias e comunica à SUSEP qualquer irregularidade relevante. A minuta veda a participação de parentes até o segundo grau entre diretores e conselheiros fiscais, bem como a cumulação de cargos em diferentes níveis da estrutura cooperativa. Essas restrições reduzem o risco de conluio e promovem a independência funcional dos órgãos de controle interno.
Outro aspecto relevante é a possibilidade de instituição de comitês subordinados ao Conselho de Administração, especialmente de auditoria, riscos e remuneração, conforme previsto no artigo 21, inciso XII. Essa previsão, ainda que facultativa, aproxima a governança cooperativa do modelo adotado em conglomerados financeiros e securitários, promovendo uma gestão mais técnica e descentralizada. Ao mesmo tempo, reforça a necessidade de capacitação e profissionalização dos conselheiros e dirigentes, condição que a própria minuta reconhece ao impor obrigações de formação continuada e programas de educação cooperativista.
Em síntese, a Resolução desenha um sistema de governança altamente profissionalizado, que combina o ideal democrático do cooperativismo com os padrões de integridade e controle exigidos pelo mercado securitário. A introdução de mandatos limitados, conselheiros independentes, segregação de funções e auditorias obrigatórias demonstra que o CNSP busca consolidar o cooperativismo de seguros como modelo institucional de alta governança, apto a operar em regime prudencial e a competir com as seguradoras tradicionais em eficiência e conformidade.
Esse capítulo, portanto, marca uma virada cultural no cooperativismo securitário brasileiro. Se, historicamente, a gestão das cooperativas era pautada por vínculos pessoais e deliberações informais, o novo marco impõe accountability, transparência e gestão técnica, projetando um novo padrão de legitimidade para o setor. Em vez de restringir a autonomia cooperativa, a SUSEP propõe um modelo de autorregulação estruturada, que fortalece o sistema e o insere definitivamente no ambiente regulatório do seguro privado.
ESTATUTO SOCIAL E POLÍTICAS INTERNAS OBRIGATÓRIAS
A minuta da Resolução do CNSP confere ao estatuto social das cooperativas de seguros papel central no desenho da governança e da conformidade institucional. A amplitude e o nível de detalhamento das disposições obrigatórias evidenciam que o regulador pretende conferir ao estatuto a função de instrumento de regulação interna, que traduz as exigências normativas externas em regras de autorregulação aplicáveis a cada cooperativa. Esse mecanismo é típico das entidades sujeitas a supervisão prudencial e reflete a visão da SUSEP de que a estabilidade institucional depende de regras internas claras, permanentes e auditáveis.
O artigo 26 da minuta estabelece um rol extenso de conteúdos obrigatórios do estatuto social, que vão muito além das exigências da Lei nº 5.764/1971 (Lei Geral das Cooperativas). O texto exige que o estatuto defina não apenas elementos formais — como denominação, sede, objeto social e data do exercício financeiro —, mas também mecanismos de governança, gestão de risco, controles internos, auditoria e remuneração. Essa densidade normativa eleva o estatuto ao status de código de conduta e de gestão, aproximando-o dos manuais de compliance das sociedades seguradoras e instituições financeiras.
Entre os elementos obrigatórios, destacam-se:
(i) o número mínimo de associados e o modo de admissão, demissão, exclusão e eliminação;
(ii) a definição clara dos direitos e deveres dos cooperados e da forma de representação nas assembleias gerais;
(iii) os critérios de integralização e devolução do capital social e das sobras;
(iv) a fixação da estrutura e funcionamento dos órgãos estatutários, com indicação de periodicidade mínima das reuniões e regras de substituição de dirigentes;
(v) a criação de comitês técnicos e sua vinculação ao Conselho de Administração;
(vi) os critérios de restituição de cotas e distribuição de sobras à luz dos requisitos prudenciais;
(vii) e as normas de filiação e desfiliação entre cooperativas singulares, centrais e confederações.
Esse detalhamento estatutário cumpre duas funções complementares. De um lado, garante segurança jurídica e transparência interna, pois estabelece de forma exaustiva as regras que vinculam associados e dirigentes; de outro, reduz a necessidade de intervenção direta da SUSEP em situações de conflito, uma vez que os mecanismos de solução passam a estar previstos de forma autossuficiente no estatuto. Essa opção regulatória traduz o princípio da autorregulação supervisionada, em que a entidade tem liberdade de se organizar, mas deve fazê-lo dentro de um marco jurídico que permita fiscalização objetiva e comparável.
Outro ponto relevante é o artigo 27, que disciplina as políticas de captação de novos associados e de aumento do capital social. A norma exige que tais políticas observem critérios compatíveis com a estratégia da cooperativa, o porte e a complexidade das operações, e a preservação dos interesses econômicos dos membros. Impõe-se ainda que as políticas contemplem diretrizes de inclusão securitária da população da região de atuação e que respeitem os objetivos estratégicos do sistema cooperativo ao qual a entidade pertence.
Essa previsão revela uma preocupação dupla:
(i) evitar a expansão desordenada que comprometa o equilíbrio técnico e a identidade cooperativa; e
(ii) assegurar que o crescimento das cooperativas ocorra de forma sustentável e coerente com o princípio da mutualidade.
O texto também autoriza que cooperativas centrais e confederações editem políticas complementares, aplicáveis de forma coordenada às filiadas, reforçando o papel de supervisão sistêmica e a uniformização de padrões internos. Na prática, isso permite que o sistema cooperativo opere com manuais uniformes de governança e compliance, garantindo coesão institucional e eficiência operacional. É uma aproximação importante entre o regime cooperativo e o modelo de conglomerado prudencial adotado para seguradoras e bancos.
Do ponto de vista jurídico, o estatuto passa a ser o núcleo vinculante de responsabilidade administrativa e regulatória. Suas disposições não têm apenas valor interno: tornam-se exigíveis perante a SUSEP e podem servir de base para sanções, responsabilização de dirigentes e até intervenção administrativa. Assim, a função tradicional do estatuto como contrato social coletivo é ampliada, transformando-o em verdadeiro instrumento normativo de governança regulada.
No plano prático, a minuta induz as cooperativas a adotar uma estrutura documental integrada, que inclui o estatuto social, o regimento interno, o código de conduta, as políticas de riscos, compliance, auditoria e remuneração. A convergência desses instrumentos cria um sistema normativo interno coeso, que permite à SUSEP aferir, em auditorias e inspeções, não apenas a conformidade formal da cooperativa, mas também a efetividade de suas práticas de governança e gestão. Trata-se de uma clara elevação de padrão institucional.
É digno de nota que o texto também reconhece a possibilidade de o estatuto prever conselheiros de administração independentes, determinando que, nesse caso, sejam explicitadas as condições de nomeação, recondução e critérios de independência. Essa previsão evita interpretações arbitrárias e assegura coerência com o regime prudencial, que exige transparência quanto às relações entre os órgãos da cooperativa e seus gestores.
Por fim, o estatuto deve contemplar cláusulas de dissolução e sucessão, inclusive o poder de agir como substituta processual dos associados, nos termos da legislação aplicável. Essa prerrogativa reforça a autonomia da cooperativa em litígios que envolvam o interesse coletivo dos cooperados, garantindo celeridade e efetividade na defesa de seus direitos — prerrogativa que a aproxima, em termos funcionais, das associações mutualistas, mas agora sob um manto de legalidade e fiscalização estatal.
Em síntese, o capítulo referente ao estatuto social e às políticas internas traduz a opção da SUSEP por uma regulação de alta densidade jurídica, que transforma o estatuto da cooperativa de seguros em verdadeiro instrumento de compliance normativo. Se por um lado isso eleva o custo jurídico e burocrático de constituição das cooperativas, por outro oferece previsibilidade e solidez institucional, afastando-as da informalidade que historicamente marcou o mutualismo não regulado.
Em termos de qualidade regulatória, esse é um dos trechos mais sofisticados da minuta: um exemplo claro de autorregulação regulada, em que o Estado define os parâmetros e a entidade executa, sob supervisão, o desenho interno de sua governança.
AUDITORIA CONTÁBIL E SUPERVISÃO SISTÊMICA
O capítulo da minuta que trata da auditoria contábil independente e da supervisão sistêmica representa um dos pontos de maior densidade técnica e de mais clara convergência entre o modelo cooperativo e o regime prudencial securitário tradicional. Nele, a SUSEP introduz um conjunto de exigências que não se limitam à análise contábil formal, mas se estendem à avaliação qualitativa da governança, dos processos operacionais e do cumprimento das normas internas e regulatórias, consolidando um verdadeiro sistema de “auditoria regulatória integrada”.
O artigo 31 inaugura essa seção determinando que todas as cooperativas de seguros — singulares, centrais e confederações — devem submeter-se anualmente à auditoria contábil independente, realizada por profissional ou empresa registrada na CVM, com escopo ampliado para abranger tanto as demonstrações financeiras quanto a avaliação dos processos operacionais e de controle. Essa ampliação é um avanço substancial em relação ao regime aplicável às cooperativas civis ou de crédito, pois estabelece uma dupla função da auditoria: (i) validar a fidedignidade das informações financeiras; e (ii) aferir a adequação do sistema de gestão de riscos, controles internos e compliance.
A minuta vai além da simples obrigatoriedade da auditoria anual. O artigo 32 detalha o conteúdo mínimo da avaliação, que deve abranger cinco eixos fundamentais:
- Desempenho operacional e situação econômico-financeira — incluindo análise de solvência, liquidez, avaliação dos ativos e passivos, fundos obrigatórios e patrimônio líquido ajustado;
- Políticas institucionais e processos internos — abrangendo segregação de funções, prevenção de conflitos de interesse, manualização de processos e prestação de informações aos órgãos de administração;
- Gestão integrada e relacionamento entre cooperativas — verificação da coerência dos contratos de prestação de serviços entre singulares, centrais e confederações, bem como o cumprimento das funções institucionais de cada nível do sistema;
- Formação, capacitação e disponibilidade de tempo dos membros dos órgãos estatutários, diretores e equipe técnica;
- Conformidade normativa e estatutária, compreendendo a adequação dos fundos obrigatórios, transações com partes relacionadas, distribuição de sobras, restituição de cotas, governança, controles internos, prevenção à lavagem de dinheiro e tratamento das demandas dos associados.
Esse rol de verificações transforma a auditoria em um instrumento de governança supervisionada, aproximando a cooperativa de seguros das exigências impostas às instituições financeiras pelo Banco Central e às seguradoras pelo regime de Solvência II, adotado pela União Europeia. A ênfase na avaliação dos processos de gestão indica que a SUSEP não busca apenas assegurar regularidade formal, mas avaliar a maturidade institucional e a cultura de conformidade de cada cooperativa.
Um dos aspectos mais inovadores da minuta é a previsão de que o relatório de auditoria contábil deverá conter capítulo específico sobre a avaliação dos processos operacionais e de controle. Essa obrigatoriedade representa uma mudança de paradigma: a auditoria deixa de ser um exame puramente contábil e passa a integrar o ciclo de supervisão regulatória. O relatório, portanto, torna-se um instrumento de fiscalização indireta da SUSEP, que pode utilizá-lo para fins de acompanhamento prudencial e identificação de fragilidades sistêmicas.
A minuta também impõe um dever de comunicação obrigatória por parte do auditor independente. Conforme dispõe o texto, o auditor deve comunicar à SUSEP, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, no prazo máximo de dez dias, quaisquer fatos relevantes identificados durante o processo de auditoria — como irregularidades materiais, deficiências graves de controles internos, descumprimento do estatuto ou da regulamentação, e operações irregulares com partes relacionadas. Esse dispositivo, que segue o modelo de “whistleblowing regulatório” adotado pela CVM e pelo Banco Central, reforça o papel da auditoria como elo entre a supervisão privada e a supervisão pública, garantindo reatividade e transparência no sistema.
Outro ponto digno de destaque é a previsão de que a SUSEP poderá estabelecer diretrizes específicas sobre o escopo da auditoria, adaptando-o à complexidade e ao porte de cada cooperativa. Essa flexibilidade é um acerto técnico: evita a imposição de custos desproporcionais às entidades menores, ao mesmo tempo em que assegura rigor aos sistemas mais estruturados. Permite ainda que a autarquia atue de forma preventiva e calibrada, ajustando o grau de escrutínio conforme o risco sistêmico envolvido.
No contexto do sistema cooperativo em três níveis (singular, central e confederação), a auditoria assume um caráter ainda mais estratégico. As cooperativas centrais e confederações passam a ter responsabilidade solidária na verificação da adequação dos controles e da governança das filiadas. Essa obrigação reforça o conceito de supervisão sistêmica compartilhada, em que a integridade do sistema depende do monitoramento recíproco entre as entidades que o compõem. Na prática, isso cria um modelo de auto supervisão hierarquizada, no qual a SUSEP atua como instância final de fiscalização, mas reconhece e legitima a capacidade de controle interno do próprio sistema cooperativo.
Do ponto de vista jurídico, esse modelo de auditoria integrada também redefine o dever de diligência dos administradores e conselheiros fiscais. Uma vez que o relatório de auditoria passa a conter parecer sobre processos internos e conformidade, o seu conteúdo se torna instrumento de responsabilização administrativa e civil dos dirigentes. O descumprimento das recomendações constantes dos relatórios poderá ser interpretado como omissão de gestão, sujeitando os administradores às sanções previstas tanto na legislação cooperativista quanto na regulação securitária.
Por fim, o caráter anual e sistemático da auditoria cria um ciclo permanente de aperfeiçoamento institucional. Cada relatório retroalimenta o planejamento estratégico e a gestão de riscos da cooperativa, gerando aprendizado organizacional e fortalecendo o sistema como um todo. Esse desenho de supervisão contínua é o que distingue a proposta do CNSP de outros modelos normativos de inspiração cooperativa, inclusive o regime da Proteção Patrimonial Mutualista, que carece de mecanismos equivalentes de auditoria e controle externo.
Em síntese, a minuta estabelece um sistema de supervisão prudencial multinível, baseado na combinação entre auditoria independente, controle interno, supervisão pelas centrais e fiscalização pela SUSEP. Essa estrutura garante transparência, rastreabilidade e governança robusta, elementos indispensáveis à credibilidade das cooperativas de seguros no mercado regulado. Trata-se, sem dúvida, de um dos pontos de maior sofisticação técnica e de mais alto impacto institucional do texto — um verdadeiro marco de integração entre autonomia cooperativa e regulação estatal moderna.
MECANISMOS DE SUPERVISÃO, DESFILIAÇÃO E INTERVENÇÃO
A Resolução proposta pelo CNSP introduz um dos mecanismos mais sofisticados de supervisão administrativa e auto supervisão institucional já vistos no direito securitário brasileiro, consolidando um sistema de controle em três níveis — singular, central e confederação — que combina supervisão técnica, disciplinar e prudencial, com base em princípios de cooperação e proporcionalidade. Esse capítulo da minuta, que se estende dos artigos 39 a 59, revela a clara intenção da SUSEP de construir um modelo híbrido de regulação, no qual a supervisão estatal se apoia e se integra à capacidade de controle interno do próprio sistema cooperativo.
O artigo 39 inaugura a seção ao atribuir às cooperativas centrais e às confederações o dever de prevenir e corrigir irregularidades das singulares filiadas. Essa atribuição não é meramente formal, mas expressa a transposição, para o campo securitário, da lógica de supervisão já consagrada no cooperativismo de crédito sob a égide do Banco Central. As centrais e confederações tornam-se, portanto, órgãos auxiliares da SUSEP, exercendo papel fiscalizatório direto e permanente, com dever de comunicação à autarquia em casos de descumprimento normativo, insuficiência patrimonial ou risco operacional relevante.
O artigo 42 explicita as funções de supervisão das cooperativas centrais e confederações, que incluem:
(i) verificar o cumprimento da legislação e da regulamentação aplicável;
(ii) assegurar a implementação de estruturas de gestão de risco, controles internos e auditoria;
(iii) promover capacitação técnica e formação permanente de administradores e equipes;
(iv) adotar medidas preventivas e corretivas em situações de risco ou inobservância de normas; e
(v) avaliar e acompanhar os planos de negócios das filiadas, inclusive quanto à consistência técnica e aderência às diretrizes do sistema cooperativo.
Essas competências configuram uma autoridade prudencial derivada, exercida sob delegação tácita do Estado, mas enraizada na autonomia organizacional do sistema cooperativo. Na prática, o modelo estabelece um arcabouço de governança multinível, em que cada camada (singular, central, confederação e SUSEP) responde por um grau específico de supervisão, fiscalização e resposta.
O parágrafo 2º do artigo 42 autoriza, inclusive, que as centrais e confederações convoquem assembleias gerais extraordinárias das filiadas, caso se verifique situação de risco ou descumprimento de obrigações regulatórias. Trata-se de uma inovação significativa: a central assume prerrogativa de natureza quase interventiva, mas exercida dentro da estrutura privada do sistema, com base em critérios objetivos e mediante registro formal. Essa possibilidade confere ao cooperativismo securitário uma autonomia de correção que reduz a necessidade de intervenção direta da SUSEP, fortalecendo a noção de autorregulação sob supervisão.
De igual importância são os dispositivos que disciplinam os procedimentos de desfiliação, previstos nos artigos 48 a 54. A cooperativa singular que desejar se desligar da central, ou esta que pretenda desligar uma singular, deve submeter o pedido à SUSEP, apresentando relatório circunstanciado com a motivação, parecer do Conselho Fiscal e ata da assembleia geral. O desligamento depende de aprovação da maioria dos votos dos associados presentes, sendo vedada a representação por delegados nesse ato. O mesmo procedimento se aplica à desfiliação entre centrais e confederações.
Essas regras de desfiliação reforçam o caráter interdependente e sistêmico das cooperativas de seguros. Diferentemente das associações mutualistas, que possuem ampla liberdade de adesão e desligamento, as cooperativas reguladas são tratadas como componentes de uma estrutura prudencial coletiva, cuja estabilidade depende da manutenção de vínculos verticais. O desligamento, portanto, não é um ato unilateral de vontade, mas uma decisão sujeita à supervisão e ao juízo de conveniência regulatória da SUSEP.
Ainda mais sensível é o regime previsto para a administração temporária e a cogestão, instituído nos artigos 56 e 57. Nesses dispositivos, a minuta autoriza a SUSEP a delegar à cooperativa central ou à confederação a administração temporária de uma singular filiada, por prazo de até um ano, prorrogável uma única vez, quando verificadas situações como:
- deficiências graves na gestão, nos controles internos ou na estrutura de riscos;
- não atendimento aos requisitos prudenciais;
- descumprimento de planos de regularização;
- risco de descontinuidade ou prejuízo aos associados;
- ou grave instabilidade administrativa.
A medida pode ser requerida pela própria central ou confederação, mediante justificativa fundamentada, e depende de autorização formal da SUSEP. Durante o período de administração temporária, fica vedado à cooperativa singular solicitar sua desfiliação, o que reforça o caráter corretivo da intervenção e impede tentativas de evasão de supervisão.
Complementarmente, o artigo 57 introduz a figura do regime de cogestão, em que duas entidades do mesmo sistema (por exemplo, central e confederação) assumem conjuntamente a administração temporária de uma cooperativa filiada, em situações de risco iminente ou irregularidade grave. Essa inovação confere flexibilidade institucional e reforça a solidariedade operacional entre as cooperativas do mesmo sistema, permitindo soluções colaborativas para crises internas, sem necessidade de liquidação ou intervenção direta do Estado.
Esses mecanismos de supervisão e intervenção refletem um modelo de governança adaptativa, no qual o Estado atua como supervisor de última instância, mas delega parte da execução do controle ao próprio sistema cooperativo. O efeito prático é uma descentralização qualificada da supervisão, com fortalecimento das estruturas intermediárias e estímulo à correção tempestiva de falhas. É o mesmo modelo aplicado com sucesso no cooperativismo de crédito, e agora transplantado, com os devidos ajustes, ao ambiente securitário.
Por fim, o capítulo se encerra com o artigo 59, que confere à SUSEP o poder de determinar a suspensão da admissão de novos associados por cooperativas singulares, sempre que constatadas deficiências nos sistemas de controle interno, gestão de riscos ou auditoria. Essa medida é de natureza preventiva e reflete a política de intervenção mínima e proporcional, preferindo a suspensão temporária à aplicação de sanções punitivas. Trata-se de instrumento eficiente de contenção prudencial, que permite estabilizar a cooperativa em crise sem comprometer sua continuidade.
Em conjunto, os dispositivos dessa seção evidenciam um amadurecimento do paradigma regulatório brasileiro. Ao contrário do modelo tradicional, centrado na fiscalização direta e punitiva (usado na regulamentação da PPM, por exemplo), a minuta do CNSP para as cooperativas consagra a regulação responsiva e cooperativa, na qual o Estado compartilha responsabilidades com as próprias entidades supervisionadas. O resultado é um sistema de supervisão em rede, baseado em cooperação, transparência e corresponsabilidade institucional.
Do ponto de vista jurídico, o modelo inaugura um novo patamar de integração entre o direito cooperativo e o direito securitário, estabelecendo uma arquitetura normativa que privilegia a prevenção e a estabilidade sobre a punição e o controle coercitivo. É, portanto, um dos aspectos mais modernos e promissores da proposta, e que poderá servir de referência para futuras regulamentações de entidades mutualistas, caso a SUSEP opte por evoluir o regime da LC 213/2025 para lógica semelhante.
CONFRONTO COM A LC 213/2025 E A RESOLUÇÃO DA PROTEÇÃO PATRIMONIAL MUTUALISTA
A análise comparativa entre a minuta da Resolução do CNSP sobre cooperativas de seguros e a regulamentação da Lei Complementar nº 213/2025, que instituiu o regime da Proteção Patrimonial Mutualista (PPM), revela duas concepções radicalmente distintas de regulação de entidades coletivas voltadas à gestão de riscos.
Enquanto a LC 213/2025 e sua Resolução infralegal foram concebidas sob uma ótica restritiva e defensiva, a minuta sobre cooperativas securitárias adota postura integradora e institucionalizante, demonstrando que a SUSEP é capaz de aplicar dois paradigmas de supervisão diametralmente opostos: um voltado à contenção e outro à construção.
A diferença não é apenas de técnica normativa, mas de filosofia regulatória:
- No caso da PPM, o Estado partiu da premissa de que as associações mutualistas representam uma zona de risco jurídico e concorrencial, e, por isso, optou por “administrar a exceção”: criou uma regulação de tutela, impondo limites artificiais, prazos exíguos de adequação e vedações de natureza quase sancionatória.
- Já no caso das cooperativas de seguros, a SUSEP reconhece que se trata de instituições econômicas legítimas, com base histórica e previsão expressa no Decreto-Lei nº 73/1966, e lhes oferece um regime normativo estável, técnico e compatível com os princípios do sistema financeiro nacional. Trata-se, em síntese, de uma regulação de confiança, e não de desconfiança.
Sob o ponto de vista jurídico, a distinção entre ambas as figuras é nítida:
- A Proteção Patrimonial Mutualista constitui atividade não securitária, baseada no associativismo civil, sem transferência de risco, e fundada em rateio de despesas. Seu marco é o terceiro setor, ainda que tangencie o campo securitário.
- A Cooperativa de Seguros, por sua vez, integra o Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP), é supervisionada integralmente pela SUSEP e opera contratos de seguro típicos, com mutualização de risco e contraprestação em forma de prêmio.
Ambas compartilham a lógica de solidariedade e ausência de finalidade lucrativa, mas divergem quanto à natureza jurídica da operação, ao regime prudencial e à extensão da supervisão estatal. A cooperativa de seguros é, portanto, um ente securitário mutualista, enquanto a PPM é um ente mutualista não securitário. Essa distinção, embora conceitualmente clara, tem profundo impacto político-regulatório.
Enquanto a LC 213/2025 foi recebida com resistência por parte das entidades mutualistas — em virtude das amarras operacionais impostas pela Resolução subsequente, que, na prática, inviabilizam a regularização de grande parte do setor —, a minuta das cooperativas de seguros surge como alternativa de institucionalização viável.
Na PPM, prevalece a lógica da limitação: o texto regula por exclusão, proibindo ou restringindo quase tudo o que não esteja expressamente permitido.
Na minuta do Cooperativismo, predomina a lógica da habilitação: regula-se para permitir, orientando o mercado e fornecendo instrumentos para que a atividade se desenvolva dentro dos padrões de governança e solvência esperados.
Do ponto de vista técnico, a diferença entre os regimes é igualmente marcante:
- A LC 213/2025 e o infralegal da PPM criaram o conceito de cadastro voluntário, sem equivalência a autorização de funcionamento, e não conferiu personalidade jurídica própria ao sistema mutualista.
- A minuta das cooperativas, ao contrário, integra expressamente as entidades ao SNSP e as submete ao regime prudencial das seguradoras, inclusive com capital mínimo, auditoria independente e poderes de intervenção.
Em outras palavras, a Resolução da PPM reconhece o mutualismo apenas como um fenômeno tolerado; a minuta das cooperativas o reconhece como instituição legítima e regulada.
Outro contraste significativo reside na abordagem de governança e supervisão:
- A Resolução da PPM impôs uma governança simplificada e altamente restritiva, sem a possibilidade de estruturas escalonadas (como centrais e confederações) e sem previsão de delegação de supervisão. Essa arquitetura isolada gera fragilidade operacional e impede a formação de sistemas integrados de autorregulação.
- A minuta das cooperativas, por sua vez, institucionaliza a autossupervisão hierárquica, reconhecendo as centrais e confederações como instâncias intermediárias de controle e correção, com poder de convocar assembleias, aplicar medidas preventivas e até assumir temporariamente a gestão das filiadas. É um salto qualitativo em matéria de design regulatório.
Do ponto de vista econômico:
- o modelo cooperativo tende a ser mais escalável e competitivo, pois permite operações típicas de seguro, contratação de resseguro e acesso ao mercado regulado, sem romper o vínculo mutualista.
- Já o modelo da PPM restringe-se a operações de rateio entre associados, vedando a intermediação financeira e a transferência de riscos, o que o torna economicamente limitado e institucionalmente marginal. Isso sem falar nas infames administradoras, e suas regras altamente limitantes para 90% do mercado.
Sob o prisma jurídico-pragmático, pode-se afirmar que a minuta das cooperativas corrige, de forma implícita, o desequilíbrio regulatório introduzido pela LC 213/2025. Se o mutualismo foi tratado como um corpo estranho dentro do setor segurador, o cooperativismo é agora apresentado como ponte de regularização e transição institucional.
Em outras palavras, a minuta oferece ao mercado o caminho que a LC 213/2025 não soube traçar: uma rota de inclusão regulada, em vez de exclusão disfarçada de reconhecimento, como no caso das PPM.
Esse contraste é tão expressivo que, em certos trechos, a minuta das cooperativas parece ter sido redigida como resposta técnica à controvérsia política gerada pela PPM. A diferença de tom é inequívoca:
- Onde a PPM menciona proibições, a minuta fala em requisitos;
- Onde a PPM impõe restrições, a minuta propõe salvaguardas;
- Onde a PPM cria incertezas conceituais (como na distinção entre “proteção” e “seguro”), a minuta adota linguagem técnica e precisa, reafirmando a base legal do seguro cooperativo.
Do ponto de vista jurídico-constitucional, a abordagem adotada na minuta do Cooperativismo é mais harmônica com os princípios da livre iniciativa, da função social da empresa e da liberdade associativa (arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal). A LC 213/2025 e o infralegal da PPM, ao imporem restrições desproporcionais e não amparadas em riscos comprovados, incorre em desvio de finalidade regulatória — ao passo que a minuta das cooperativas, ao disciplinar o seguro sob forma cooperativa, respeita o devido processo de legalidade e o espaço legítimo da SUSEP no exercício da função regulatória prevista no Decreto-Lei nº 73/1966.
Por fim, a leitura comparada permite identificar que, se a Resolução da PPM nasceu da prevenção e do controle, a minuta das cooperativas nasce da confiança e da institucionalização. Enquanto o regime mutualista tenta coexistir à margem da regulação, o regime cooperativo oferece um caminho interno ao sistema — seguro, prudencial e juridicamente íntegro. Essa diferença transforma as cooperativas de seguros na única via realista de evolução do mutualismo brasileiro para um ambiente regulado e reconhecido, sem perda de identidade e sem ruptura de propósitos.
Em síntese, a minuta do CNSP sobre cooperativas de seguros supera o paradigma defensivo da LC 213/2025 e da minuta da PPM, introduzindo uma nova racionalidade regulatória: a do mutualismo integrado e prudencial, que reconhece a solidariedade como forma legítima de organização econômica, desde que tecnicamente estruturada e juridicamente transparente.
É, portanto, mais do que uma norma técnica — é uma correção de rumo institucional, que restabelece a coerência entre a política pública de seguros, o direito cooperativo e a livre organização social prevista na Constituição Federal.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES JURÍDICAS
A minuta da Resolução do CNSP que regulamenta as sociedades cooperativas de seguros representa um marco técnico, político e jurídico na história da regulação securitária brasileira. Pela primeira vez, o Estado brasileiro reconhece de forma expressa e sistemática a legitimidade do cooperativismo securitário como integrante do Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP), conferindo-lhe estrutura própria, regime prudencial e autonomia organizacional compatível com os valores constitucionais da livre iniciativa, da solidariedade e da função social da empresa.
Sob o ponto de vista jurídico-formal, o texto é coerente com o Decreto-Lei nº 73/1966, que já previa a figura das cooperativas de seguros, e harmônico com os princípios do direito cooperativo e do direito securitário. Ele integra esses dois ramos em uma síntese normativa moderna: a da empresa mutualista regulada, que alia a autogestão democrática à disciplina prudencial exigida pelo mercado de seguros.
Do ponto de vista técnico-regulatório, a minuta distingue-se pela sua racionalidade e proporcionalidade. Ao contrário da Resolução que regulamentou a Proteção Patrimonial Mutualista, o texto das cooperativas de seguros evita excessos regulatórios e não impõe restrições artificiais ou economicamente inviáveis. A SUSEP, nesse caso, demonstra capacidade de calibrar a regulação de acordo com a natureza da atividade — rigorosa quando há risco sistêmico, mas flexível quando se trata de assegurar a viabilidade de modelos cooperativos autônomos.
O sistema proposto é sólido:
- estabelece níveis de governança bem definidos, com conselhos e diretorias dotados de mandatos limitados, segregação de funções e possibilidade de conselheiros independentes;
- impõe critérios prudenciais e de capitalização claros, sem afastar a vocação participativa e democrática das cooperativas;
- cria mecanismos de supervisão em rede, em que centrais e confederações assumem papel ativo de fiscalização, prevenção e intervenção;
- e exige auditoria contábil e operacional independente, o que assegura transparência e fortalece a confiança institucional no sistema.
Esse arranjo normativo revela uma regulação responsiva, orientada à confiança e à prevenção, em oposição à regulação coercitiva e reativa que caracterizou a regulamentação das PPM.
O modelo cooperativo não é tratado como exceção tolerada — como ocorre com o as PPM —, mas como instituição integrante da ordem econômica, apta a operar sob os mesmos princípios que regem o mercado securitário, com a diferença de que o capital e o risco pertencem aos próprios segurados.
A integração sistêmica entre SUSEP e cooperativas é outro avanço notável. A autarquia deixa de ser um ente meramente fiscalizador para atuar como supervisor de última instância, em diálogo com estruturas internas de autorregulação e governança. Essa evolução aproxima o sistema brasileiro de padrões internacionais de regulação baseada em risco (Risk-Based Supervision), reforçando a credibilidade institucional do mercado de seguros cooperativos.
Do ponto de vista jurídico-estrutural, a minuta promove uma refundação conceitual da mutualidade regulada. Se a PPM, mesmo com a LC 213/2025, permaneceu marginalizada por falta de adequação formal ao regime de seguros, o cooperativismo securitário agora se consolida como alternativa institucional legítima, permitindo a operação de seguros de natureza coletiva sob uma forma jurídica compatível com o controle estatal. Essa distinção, embora sutil no plano conceitual, é decisiva no plano prático: ela define quem poderá existir juridicamente no médio e longo prazo.
Com base em todo o exposto, é possível formular as seguintes recomendações jurídicas e estratégicas:
Adoção do modelo cooperativo como rota de institucionalização
Entidades mutualistas e associações de proteção veicular que buscam regularização e segurança jurídica podem considerar a conversão, total ou parcial, para o regime de cooperativas de seguros, que oferece amparo legal, credibilidade institucional e sustentabilidade econômica sem afastar o caráter solidário da atividade.
Revisão dos estatutos sociais e implementação de governança técnica
Os estatutos das cooperativas devem ser adaptados às exigências da minuta, incorporando regras de auditoria, gestão de riscos, segregação de funções e política de renovação de mandatos. A criação de conselhos independentes e comitês técnicos deve ser vista não como ônus, mas como ferramenta de blindagem jurídica e administrativa.
Formação de sistemas cooperativos integrados (singular–central–confederação)
O modelo de três níveis é a espinha dorsal do sistema proposto. Ele não apenas distribui responsabilidades, mas cria mecanismos de mutualização de capital e de risco, além de favorecer a supervisão recíproca. Cooperativas isoladas podem existir, mas precisam administrar sua maior vulnerabilidade técnica e regulatória.
Adoção de políticas de compliance e auditoria permanente
O novo regime exige que a auditoria contábil independente avalie não apenas números, mas processos. É recomendável que cada cooperativa desenvolva manual de governança, matriz de riscos e programas internos de integridade, em consonância com o marco prudencial da SUSEP.
Interlocução estratégica com a SUSEP e participação na consulta pública
A minuta ainda se encontra em fase de consulta pública. É fundamental que as cooperativas, federações e entidades representativas apresentem contribuições técnicas consistentes, com foco na manutenção do equilíbrio entre exigência prudencial e viabilidade operacional. Esse diálogo será determinante para evitar distorções na versão final da Resolução.
Preservação dos princípios cooperativos e da identidade mutualista
Apesar da aproximação com o mercado segurador, o cooperativismo não deve abdicar de sua essência solidária. A estrutura regulatória moderna precisa conviver com valores como autogestão, educação cooperativista e distribuição equitativa dos resultados. É nesse ponto que reside a legitimidade social e econômica do modelo.
Em termos sistêmicos, o advento da resolução das cooperativas de seguros pode redefinir o mapa institucional do setor de gestão de riscos no Brasil. De um lado, as seguradoras tradicionais continuarão dominando o mercado de grandes riscos e operações financeiras complexas; de outro, as cooperativas ocuparão o espaço das soluções coletivas intermediárias, voltadas a nichos regionais e de proximidade; e, paralelamente, o mutualismo poderá — se souber adaptar-se — sobreviver sob a forma de estruturas híbridas ou associadas às cooperativas.
Em conclusão, a minuta do CNSP sobre cooperativas de seguros não é apenas um novo regulamento: é uma declaração de maturidade do Estado brasileiro diante das formas alternativas de organização econômica. Ela demonstra que é possível compatibilizar solidariedade e prudência, democracia e técnica, autonomia e supervisão.
Mais do que um texto normativo, trata-se de um ato de reconciliação institucional entre a economia cooperativa e o sistema financeiro nacional — e, se implementada com equilíbrio, poderá inaugurar uma nova era de legitimidade e expansão para o cooperativismo securitário no país.